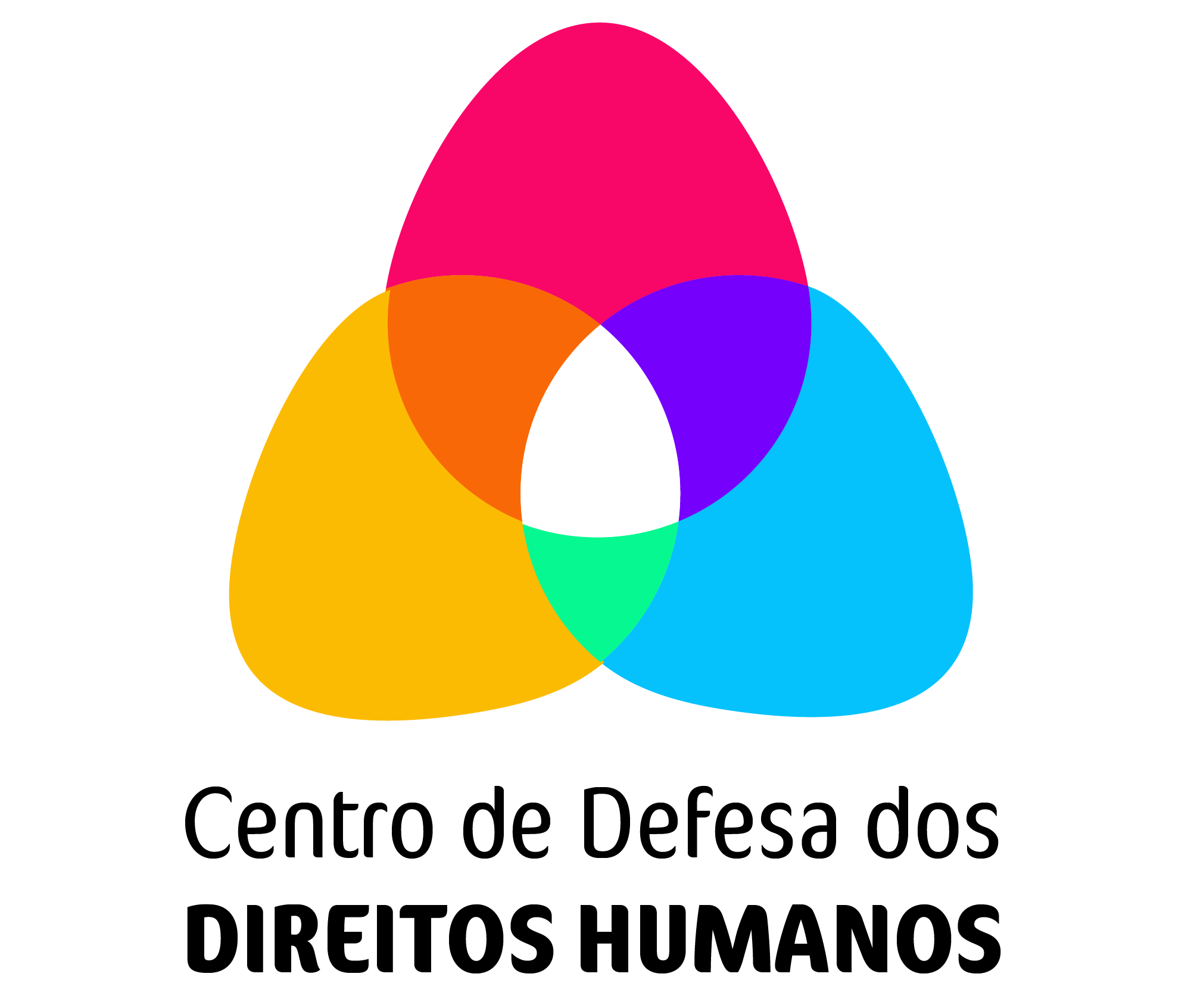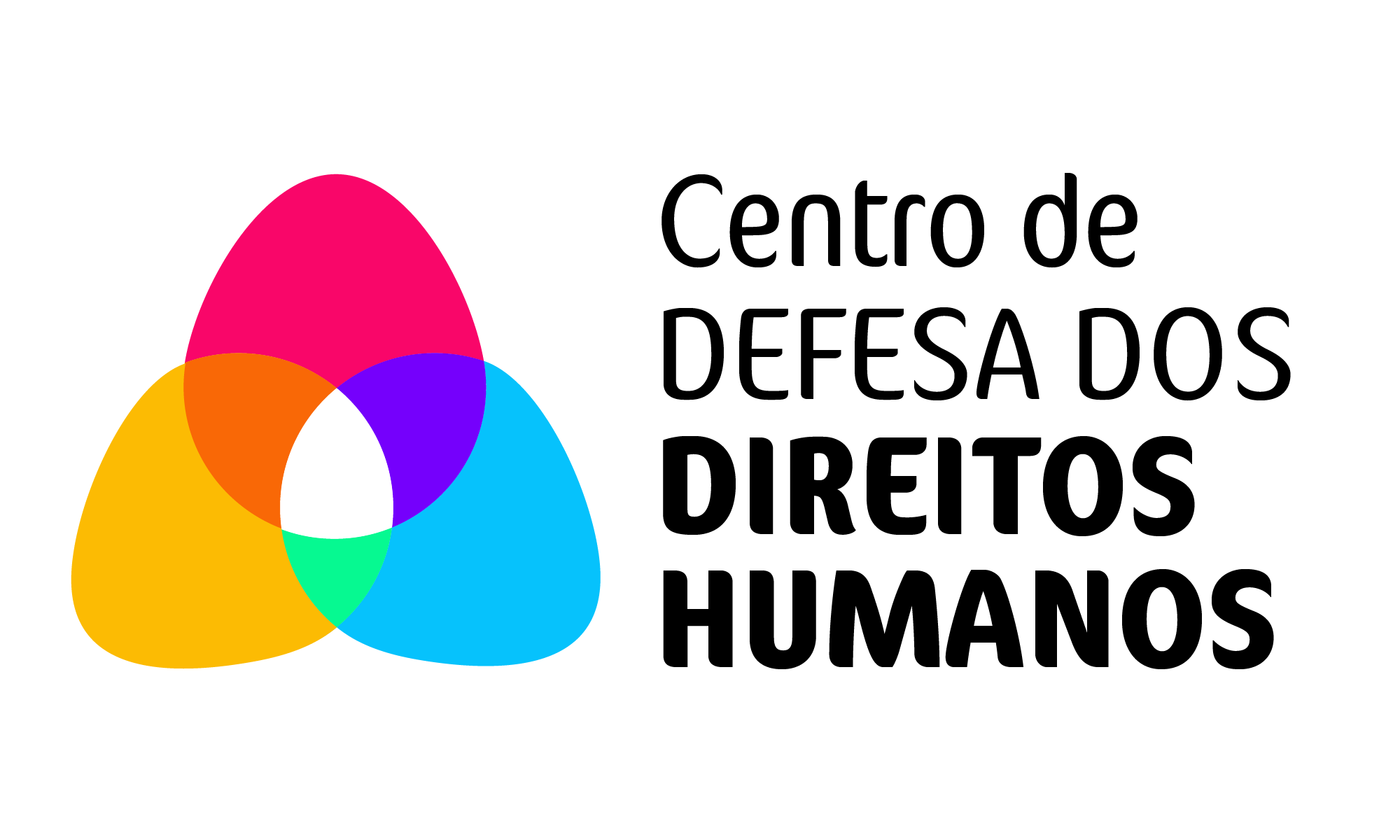A luta das mulheres por direitos fundamentais
O ser humano pode ser salvo de várias maneiras. Não apenas no sentido literal. No Brasil, onde direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal são negligenciados cotidianamente, esse resgate significa muito mais do que sobreviver: é a busca constante por dignidade. Para parte da população, atingir esse objetivo é ainda mais difícil. O Correio publica a série Incansáveis — A luta das mulheres por direitos fundamentais, para mostrar as conquistas que elas alcançaram nos últimos anos e os desafios que virão pela frente.
PARTE 1 | Transformação após a Lei Maria da Penha
Mudanças no sistema de Justiça provocadas pela lei são a cada dia mais perceptíveis. Jurisprudências atuais reconhecem direitos antes constantemente negados às vítimas
Na primeira reportagem da série, mulheres, pesquisadoras e promotores de Justiça avaliam como a aplicação e o aprimoramento da Lei Maria da Penha têm contribuído para salvar vidas. Destacam, no entanto, ser necessário fortalecer a rede de proteção e ampliar o orçamento destinado às políticas voltadas à população feminina, assegurando o acesso a direitos essenciais e a igualdade de gênero.
Formada em administração de empresas, Ana Paula*, 46 anos, constatou na prática as mudanças provocadas pela Lei Maria da Penha. Nascida em um lar marcado pela violência, viu a reprodução do ciclo meses após se casar, aos 17 anos. “Acreditava que, como a minha mãe, eu deveria relevar, que homem é assim mesmo.”
A conversa, de mais de uma hora, é marcada por pausas intercaladas por soluços. Quando as filhas completaram 4 anos, o então companheiro ameaçou a ela e as crianças de morte. “Criei coragem para denunciá-lo. O policial perguntou se eu tinha certeza, se o meu marido não havia tropeçado em mim sem querer. Voltei para casa destruída e rezando para ele (marido) não descobrir”, conta.
As agressões continuaram, cada vez piores. Mas, em 2007, a ginecologista notou as marcas de violência e falou sobre a Lei Maria da Penha, promulgada um ano antes. “A segunda vez que ele nos ameaçou de morte, peguei os documentos, algumas peças de roupa e fui para a delegacia. Os policiais não duvidaram de mim. Consegui a medida protetiva e me mudei do DF. Se não fosse a Maria da Penha, eu não estaria viva para contar a minha história”, diz, emocionada.
A percepção da transformação proporcionada pela Lei Maria da Penha não é exagerada. Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) atribui à legislação a redução de cerca de 10% na taxa de homicídios contra mulheres dentro das residências. O estudo é de março de 2015.
Contribuições
A legislação está mudando não só a vida de mulheres vítimas de violência de gênero, mas, também, de integrantes do sistema de Justiça. “Antes dela, eu sequer sabia da palavra gênero. E não sou só eu. Outros colegas passaram a se debruçar sobre os estudos de gênero e isso fez com que nossos olhares fossem transformados”, observa a promotora Mariana Távora, coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).
Entre as grandes contribuições da norma, Mariana Távola destaca que a legislação mostra que a violência de gênero é uma violação aos direitos humanos e precisa de resposta do Estado no eixo da prevenção primária. “Isso passa pela promoção da igualdade de gênero, pela necessidade de trabalhar as situações de risco e de uma rede dentro da saúde, da assistência social, do Ministério Público e da Justiça, para a responsabilização do autor da violência.”
Humanidade
Apesar das conquistas, há muito o que se avançar, tanto no âmbito da Justiça, quanto em políticas públicas. O relatório O Poder Judiciário no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em parceria com o Ipea, concluiu que, no Brasil, o Judiciário incorporou a discussão da violência motivada por gênero, mas “ainda é preciso avançar no sentido de garantir um atendimento ao mesmo tempo tecnicamente apurado e mais humanizado, que não reproduza violências de gênero e dê respostas efetivas às expectativas de justiça das mulheres vítimas de violência”.
Este mês, um passo importante foi dado nessa direção. O CNJ aprovou uma recomendação para que magistrados e magistradas das varas especializadas sejam capacitados em direitos fundamentais com perspectiva de gênero. A conselheira Maria Cristiana Ziouva participou do grupo de trabalho que redigiu o texto e explica que o objetivo é dar um tratamento mais humano, célere e adequado às vítimas nos casos de violência contra a mulher, “assegurando dessa forma os seus direitos fundamentais e, principalmente, evitando a revitimização”.
“É muito difícil precisar quando haverá uma transformação, mas sem dúvida ela ocorrerá, pois a sociedade já reflete essa transformação. E esse ato foi editado com a esperança de que haja um maior engajamento e uma maior sensibilidade ao tema”, completa a conselheira.
* Nome fictício
Nos últimos 14 anos, jurisprudências nos tribunais têm fortalecido a legislação de proteção à mulher. Entre elas, estão o reconhecimento da violência doméstica mesmo quando agressor e vítima não vivem na mesma casa; entre namorados; mãe e filha; padrasto e enteada; irmãos; e casais homoafetivos femininos.
“De uma década para cá, saímos de um momento do século passado, em que ainda se discutia a tese da legítima defesa da honra, para, já no começo deste século não ver mais esse tipo de discussão por aqui. Não digo que não voltará acontecer, mas não tenho visto”, observa o promotor Raoni Parreira Maciel, coordenador do Núcleo do Tribunal do Júri e Defesa da Vida do MPDFT.
Baseado na experiência como integrante do Ministério Público nos julgamentos de feminicídios consumados e tentados no DF, ele avalia que a mudança é resultado do debate provocado pela lei. Como o argumento jurídico não encontra mais respaldo entre os jurados, a defesa dos réus migrou para a tese do privilégio, alegando crime passional, na tentativa de reduzir a pena. Recentemente, surgiu uma terceira tese para reduzir penas de feminicidas: a da semi-imputabilidade, ou seja, no momento do crime, o réu não era totalmente capaz de perceber o que estava fazendo.
“Toda vez que surge uma nova tese, é porque a anterior já não encontra respaldo entre os jurados”, comenta. Raoni destaca, ainda, que tem sido cada vez mais raro vítimas sobreviventes e parentes usarem o termo “ciúme”. Em vez disso, adotam as expressões “sensação de posse” ou “achava que era dono dela”.
Também tem reduzido o número de mulheres que defendem os seus algozes. “Isso nos mostra duas coisas: o vocabulário está mudando na sociedade e o Estado está conseguindo tirar essa mulher do ciclo de violência”, acredita o promotor. “Estamos num ciclo produtivo, ainda que os números sejam os de uma tragédia”, conclui.
Os dados mais atuais da Secretaria de Segurança Pública (SSP/DF) mostram redução de 46,1% no número de feminicídios e de 49,3% nas tentativas de assassinatos de mulheres pela condição de gênero entre janeiro e setembro deste ano em comparação ao mesmo período de 2019. Também houve queda de 3,6% nos registros de violência doméstica.
Apesar disso, a capital federal tem muito o que avançar. É a que mais registrou casos de violência doméstica em todo o país no ano passado, de acordo com o 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado na última segunda-feira, e ocupa a segunda posição em feminicídios.
Com 16.549 casos de violência doméstica registrados no ano passado, o DF ultrapassa capitais como São Paulo (11.403), Rio de Janeiro (8.966) e Belo Horizonte (7.744). Em relação aos estupros, o DF está em quinto lugar entre as capitais que mais registraram casos, foram 756. São Paulo ocupou o topo do ranking, com 2.663, seguida de Rio de Janeiro (1.726), Curitiba (904) e Manaus (855).
Ao avaliar o atual cenário, a secretária da Mulher, Ericka Filippelli, pondera que os dados do anuário tratam da realidade de 2019. Ela pondera que o DF proporciona maior acesso aos canais de denúncia, o que resulta em uma menor subnotificação.
“A questão é que, este ano, já temos a queda de mais de 40% nos índices de feminicídio. Então, isso é positivo. Revela que as políticas implementadas ao longo de 2019 começam a dar resultados. Este ano, durante a pandemia, disponibilizamos um canal de denúncia pelo WhatsApp, o teleatendimento, sem contar com a maior articulação desta política com a polícia”, destaca a secretária.
O aumento do índice de flagrantes, por sua vez, é resultado, na visão dela, de uma atenção maior dada às mulheres pelos integrantes do programa da segurança, o Provid. “Eles fazem uma abordagem local, na casa da família em situação de violência e isso tem sido muito importante.”
“É preciso que se tenha clareza que esse é um direito fundamental: de viver sem violência, em todos os sentidos”, reforça a advogada criminalista Soraia Mendes, especialista em direitos das mulheres. Ela ressalta que a violência sexual e a psicológica podem ser tão brutais quanto a física e que, aliada a uma necessária mudança social, vem a responsabilidade do sistema de justiça criminal.
“Essa violência é o que te impede de andar na rua às 10 horas da noite sem medo de ser estuprada. Ela é muito presente e nos distancia desse direito fundamental de uma vida sem violência. É o direito negado de ter acesso à cidade”, afirma Soraia, que é professora de processo penal da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

PARTE 2 | Os desafios das mulheres trans
Muitas vezes privadas de educação e de acesso à saúde e à segurança, elas enfrentam a discriminação e vencem batalhas diárias para reafirmarem a própria identidade
ADRIANA BERNARDES | GUILHERME MARINHO | MARIANA NIEDERAUER
Elas não querem privilégios. Querem respeito e direitos iguais. Se nascer mulher no Brasil representa enfrentar diversos obstáculos para alcançar os mais básicos direitos, para as trans, esse desafio é ainda maior. Na segunda da série de reportagens Incansáveis — A luta de mulheres por direitos fundamentais, o Correio mostra os avanços nas políticas públicas voltadas a elas e como o sistema Judiciário tem atuado no reconhecimento da identidade de gênero.
“O preconceito começa, na maioria das vezes, dentro da própria casa, ou seja, no ambiente familiar, e é repassado de geração em geração”, avalia Paula Benett, coordenadora de Proteção e Promoção dos Direitos e Cidadania LGBT da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus). Mulher trans, ela ressalta que os reflexos da transfobia estão presentes também no ambiente escolar, no mercado de trabalho e, principalmente, nas ruas.
Nos últimos anos, no entanto, várias conquistas passaram a integrar o caminho repleto de obstáculos da comunidade trans. A garantia do uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero no âmbito da administração pública federal; a oferta de cirurgias de redesignação sexual no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); a autorização, por meio do Supremo Tribunal Federal (STF) da alteração de nome e gênero no registro civil nos cartórios; e a crimininalização da discriminação contra pessoas LGBTQ+ são algumas delas.
O Distrito Federal é pioneiro, por exemplo, na criação do POP LGBT da Polícia Civil, uma parceria com a Sejus. “É um protocolo que estabelece parâmetros para o atendimento, abordagem e tratamento adequado às pessoas LGBT, válido para todas as delegacias do DF”, explica Paula.
Violência
No Distrito Federal, a Polícia Civil registrou 129 ocorrências envolvendo transexuais e travestis em 2020. No ano anterior, foram 161. A maioria dos casos é de ameaça, injúria, lesão corporal e roubo. Este ano, houve um homicídio. Recentemente, a Casa Abrigo passou a acolhê-las também, e não apenas às mulheres cis gênero.
Uma das medidas para garantir a cidadania das mulheres foi a criação da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou Contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin), em 2016. “Ter a Decrin aqui tem uma simbologia, a população (LGBTQ+) se sente mais empoderada. Mesmo assim, o preconceito é muito grande”, afirma a delegada titular da unidade especializada, Ângela Maria dos Santos. “Hoje, o trabalho da Decrin é se aproximar dessa população, para atender de forma humanizada, sem que ela seja revitimizada”, completa.
Um mês após o STF equiparar a homotransfobia ao crime de racismo, em junho de 2019, a Decrin passou a padronizar o atendimento à população LGBTQ+ no DF. “Vemos mulheres trans não sendo colocadas na Lei Maria da Penha, por exemplo, por desconhecimento da pessoa que está registrando a ocorrência. É árduo, lento, gradativo, mas acreditamos que só dessa forma vamos melhorar o atendimento a essa população.”
Desde a determinação do STF, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do DF, de junho a dezembro de 2019, foram registradas 15 ocorrências de homotransfobia na capital. Entre janeiro e setembro deste ano, houve 27 crimes desse tipo. Na avaliação do presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do DF, o deputado distrital Fábio Félix, o impacto de decisões favoráveis à comunidade LBGTQ+ é importante. “As interpretações feitas pela Justiça são um grande ganho, mas, infelizmente, não têm o caráter garantidor que a lei tem. Corre-se sempre o risco, porque não há lei aprovada, sempre depende da interpretação”, alerta.
Inclusão
Aos 7 anos, Gisela da Silva Fernandes, hoje com 45, soube que era igual a Roberta Close, transexual ícone de beleza nos anos 1990. Mas foi só em 2014 que se assumiu como mulher trans. Desempregada, a assistente social com pós-graduação em assistência social e saúde pública pela Faculdade Projeção, afirma que precisa enfrentar uma rotina de privação de direitos. “Não respeitam a minha identidade de gênero, sofro preconceito ao procurar emprego, falta de banheiros públicos adequados. A nós são negados todos os direitos”, lamenta. Agora, vive da ajuda que recebe do Ambulatório Trans e do Creas Diversidade.
“Não tenho dinheiro nem para comprar os hormônios femininos que a médica receitou. Se não fosse o preconceito e eu tivesse um emprego, tudo seria diferente”, afirma Gisela, que luta para conseguir uma cirurgia de redesignação sexual na rede pública, ofertada em apenas no Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Porto Alegre e Recife.
Histórias como as de Gisela são recorrentes. Uma das mais emblemáticas da cidade é a da professora Natalha Nascimento, 36 anos. Em 2018, ela foi vítima de recorrentes ofensas transfóbicas feitas por funcionário de uma pastelaria na Rodoviária do Plano Piloto. O caso foi parar na Justiça. Em acordo com a empresa, homologado pelo 6º Juizado Especial Cível de Brasília, Natalha optou por palestrar para os agressores.
“Ser uma pessoa trans no Brasil é um risco. Nosso país carrega uma história de violência impressionante contra essa população. Não é só excluir, precisa matar”, protesta a educadora, que sofreu tentativa de assassinato em 2013.
Formada em matemática pela Universidade Estadual de Goiás, em Águas Lindas, ela reconhece, porém, a capacidade transformadora da educação. Ela começou a estudar quando “saiu da roça”, Açailândia (MA), aos 9 anos. Aos 21, concluiu o ensino médio, iniciou o processo de transição de gênero e a faculdade. Mulher, trans, negra e periférica, Natalha quebrou barreiras usando toda a oportunidade para educar quem estivesse disposto. “Sempre acreditei que a educação é a melhor forma de combater violência sem gerar violência.”
Depois do episódio envolvendo a pastelaria, Natalha passou a promover encontros de caráter educativo nas proximidades de casa, na Estrutural. Em maio de 2019, fundou a Ong IPI — Instituto Incluindo pra Incluir. O foco inicial era ajudar a população trans, mas o auxílio se estendeu a toda a comunidade.
Quando começou a transicionar, Natalha não tinha condições financeiras para custear tratamentos hormonais ou intervenções estéticas e cirúrgicas nem havia o Ambulatório Trans no DF. “Na época, fazíamos nosso próprio tratamento, aplicando produtos para alterar o corpo, e muitas delas morreram. A transição de gênero era nós por nós”, lembra. “Hoje, estou muito bem como eu estou. Olho no espelho e me vejo exatamente como eu queria ser”, reforça.
Paula Benett, da Sejus, também reforça ser essencial a educação, para que as próximas gerações acolham a diversidade com menos preconceito. “A sociedade que queremos é uma sociedade justa e igualitária.”

Personagem da notícia | Maria Luiza da Silva
Quase 20 anos de disputa judicial para ser reconhecida como capaz. Maria Luiza da Silva, 60 anos, é militar desde 1979, quando iniciou a carreira de praça na Força Aérea Brasileira (FAB), como recruta. Tornou-se soldado de segunda classe, de primeira classe e cabo. Especializada em mecânica de aeronaves, trabalhou com diversos tipos de motores, recebeu diplomas e medalhas pelos bons serviços. Em 1998, no entanto, a primeira trans das Forças Armadas, cuja trajetória o Correio acompanhou em diversas reportagens, foi colocada na reserva pela Aeronáutica, aos 38 anos.
“Eu sou uma mulher trans, né? Fiz toda a transição necessária para a mudança, inclusive cirúrgica, mudei o nome, o gênero, e na identidade militar também. Desde criança, a força do femino era muito grande em mim”, relata Maria Luiza, ao ilustrar o que motivou a determinação da corporação. “É muito difícil falar disso para mim, muito dolorido. É importante dizer que foi discriminatório”, lamenta a militar.
Em 23 de maio deste ano, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Herman Benjamin entendeu que a militar sofreu discriminação ao ser aposentada compulsoriamente em 2000 e determinou a reintegração dela e progressões por tempo de serviço. “Meu processo da Justiça continua, está muito perto do final, e minha promoção para suboficial foi publicada. Mas essa decisão precisa ser referendada pelo STJ, o que deve acontecer ainda em 2020”, comemora.
Em 2019, um filme sobre a vida da suboficial da Aeronáutica foi lançado e exibido no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. O documentário Maria Luiza, dirigido e produzido por Marcelo Díaz, tem previsão de estreia nas plataformas digitais e cinemas no mês que vem. O longa participou de mais de 10 festivais internacionais. Em setembro, ganhou o prêmio de Melhor Documentário Internacional no Festival de Direitos Humanos, no México (Humano Film Festival).
Foto: Vinicius Cardoso/Esp. CB/D.A Press – 19/11/2019
Fernanda* teve os longos cabelos loiros cortados quando foi presa, acusada de tráfico de drogas por portar menos de 10g de cocaína. Aos 35 anos, ela lembra dos traumas vividos durante um ano e 10 meses de detenção no Complexo Penitenciário da Papuda. Os xingamentos e a violência psicológica por parte de agentes penitenciários eram constantes. Ainda guarda no corpo as marcas de uma tentativa de estupro dentro da cela e, na memória, cenas que espera nunca mais viver. Depois de deixar a prisão, passou mais seis meses enclausurada, com medo de sair à rua. O tratamento psicológico na Unidade Básica de Saúde (UBS) perto de casa ajudou a superar o trauma. Agora, administra o próprio salão, em Planaltina, com o companheiro. “Hoje eu posso bater no meu peito e dizer: ‘Eu sou empresária, você tem que me respeitar’”, orgulha-se.
Os cinco anos que separam a prisão de Fernanda da de outra mulher trans, Thais Bulgari dos Santos Ventura, foram de muitas mudanças. Agora, elas não têm mais os cabelos, símbolo da identidade feminina, cortados ao chegarem ao sistema carcerário do DF e, graças ao pedido de Thais à Justiça, conquistaram o direito de cumprir pena no presídio feminino, a Colmeia.
“É certo que este Juízo vinha decidindo que, para a mulher trans ser alocada em presídio feminino, necessitaria ter feito a cirurgia de redesignação sexual. Ocorre que, melhor estudando o tema, revi meu entendimento, porque compreendi que ‘nem todas as mulheres trans são transexuais, uma vez que podem ou não optar por uma cirurgia de redesignação sexual’. Na verdade, compreendi que a questão, para além de física, é extremamente subjetiva e complexa e a diversidade precisa e deve ser respeitada”, escreveu a juíza Leila Cury, da Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), na decisão.
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) também reconheceu, este mês, a identidade de gênero no sistema prisional brasileiro. A partir de agora, pessoas trans poderão cumprir pena em unidades prisionais adequadas ao gênero autodeclarado. Até 13 de outubro, havia 23 mulheres trans presas no DF. Thais já está na Colmeia e, as demais, segundo a VEP, estão em processo de transferência.
Na avaliação do defensor público Paulo Márcio de Nápolis, que atuou no caso de Thais, faz-se necessário o acesso de populações vulneráveis a direitos fundamentais. “O sistema de Justiça, em significativa medida, reflete a estrutura social brasileira, repleta de desigualdades no tocante à distribuição de oportunidades e dos meios materiais necessários à sobrevivência humana. Sem dúvida, esta é a grande questão a ser enfrentada”, afirma.
* Nome fictício

Entrevista | Michel Platini
presidente do Centro Brasiliense de Defesa dos Direitos Humanos (CENTRODH) e ex-presidente do Conselho de Direitos Humanos do DF
Que amparos uma pessoa trans tem hoje, no Brasil e no DF, juridicamente?
A nome social foi reconhecido no DF em 2017 e, no Brasil, em 2018, após uma decisão do STF e, consequentemente, uma resolução do CNJ. Mas no sistema prisional começou a ter efetividade após a atuação intensa do Conselho de Direitos Humanos do DF, que chegou a editar o documento mais moderno para a internação de pessoas LGBT em privação de liberdade do país.
Qual foi a importância de elas ganharem o direito de manterem os cabelos nos presídios?
O cabelo é também uma afirmação de gênero e a obrigação de que mulheres cortassem totalmente seus cabelos para a padronização do sistema sempre foi considerada por nós uma aplicação de tortura que lembra os porões da ditadura militar e a própria segregação imposta pelo movimento nazista no mundo. Significava que a privação da liberdade não é a única pena imposta às mulheres trans do sistema prisional e que esse método visava anular a personalidade de mulheres.
E a conquista mais recente, de poderem cumprir pena no presídio feminino?
A Vara de Execuções Penais do TJDF não poderia mais resistir à evolução da humanidade. A última decisão da VEP que negava a transferência de mulheres trans para o presídio feminino violava frontalmente os tratados internacionais e diversas normas que versam sobre a dignidade humana no nosso país. A decisão foi comemorada por quem defende os direitos, mesmo que tardiamente, representa um avanço sem precedentes.
Que outras vitórias houve nesse caminho e o que elas representam para a população trans?
O direito de ter o seu gênero respeitado é fundamental para que os demais direitos sejam garantidos. Sem esse reconhecimento, uma cadeia interminável de violações acontecerão. Direito à visita íntima também foi uma conquista que tem um impacto cultural muito importante nas unidades prisionais do DF.
Em que pontos as políticas públicas, essencialmente para as mulheres trans, ainda precisam avançar?
Pessoas LGBT ainda são impedidas de trabalharem nas unidades prisionais. Uma das últimas reivindicações da população GBT no sistema que eu tive acesso foi a dificuldade na classificação para o trabalho nas unidades. Nosso último levantamento demonstrava que não existia nenhuma pessoa gay ou bissexual, travesti ou transsexual classificada para o trabalho na Papuda. Além de em algumas unidades GBT estarem no bloco de crimes sexuais, mesmo sem terem praticado nenhum crime sexual, o que, na minha opinião, existia para reforçar o estigma e o preconceito. Precisamos avançar muito ainda. Esse sistema é violador para todo o conjunto da população e consegue ser ainda mais para a população LGBT, mesmo tendo baixíssimos índices de incidência no crime.
Foto: Antonio Cunha/CB/D.A Press
Gênero
Conceito formulado nos anos 1970 com influência do movimento feminista. Foi criado para distinguir a dimensão biológica da dimensão social, baseando-se no raciocínio de que há machos e fêmeas na espécie humana, no entanto, a maneira de ser homem e de ser mulher é realizada pela cultura. Assim, gênero significa que homens e mulheres são produtos da realidade social e não decorrência da anatomia de seus corpos.
Cis
A pessoa cis é aquela que reivindica ter o mesmo gênero que o que lhe registraram quando ela nasceu.
Nome social
De acordo com o artigo 1º, parágrafo único da Resolução n° 108 de 05 de maio de 2015, entende-se por nome social aquele usado pela pessoa, por meio do qual se identifica e é reconhecido na sociedade, a ser declarado pela própria pessoa, sendo obrigatório o seu registro.
Transexual
Pessoa que possui uma identidade de gênero diferente do sexo designado no nascimento. Homens e mulheres transexuais podem manifestar o desejo de se submeterem a intervenções médico-cirúrgicas para realizarem a adequação dos seus atributos físicos de nascença (inclusive genitais) a sua identidade de gênero constituída.
Transfobia
Palavra criada para representar a rejeição e/ou aversão às transexuais. A expressão está mais relacionada às ações políticas diferenciadas do movimento LGBT.
Travesti
Pessoa que nasce do sexo masculino ou feminino, mas que tem sua identidade de gênero oposta ao seu sexo biológico, assumindo papéis de gênero diferentes daquele imposto pela sociedade. Muitas travestis modificam seus corpos por meio de hormonioterapias, aplicações de silicone e/ou cirurgias plásticas, porém, vale ressaltar que isso não é regra para todas (definição adotada pela Conferência Nacional LGBT em 2008. Diferentemente das transexuais, as travestis não desejam realizar a cirurgia de redesignação sexual, mudança de órgão genital). Utiliza-se o artigo definido feminino “a” para falar da travesti (aquela que possui seios, corpo, vestimentas, cabelos, e formas femininas). É incorreto usar o artigo masculino, por exemplo, “o“ travesti Maria, pois está se referindo a uma pessoa do gênero feminino.
Fonte: Um olhar sobre a população LGBT no Distrito Federal, Codeplan

PARTE 3 | Redes de proteção
Dificuldade de acesso ao mercado de trabalho e a equipamentos públicos ainda é realidade para muitas mulheres. Especialistas destacam a importância de redes de proteção formadas por políticas intersetoriais. Conheça as ações do DF
Ter uma vida plena e digna implica na garantia de direitos humanos. Se isso já é difícil para a sociedade em geral, para as mulheres, o abismo é ainda maior, como mostra a terceira reportagem da série Incansáveis — A luta das mulheres por direitos fundamentais. Estudo publicado este ano pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) evidencia as razões que dificultam a entrada delas no mercado de trabalho e o acesso à educação, por exemplo. Intitulado As mulheres do Distrito Federal: desigualdade, inserção no mercado de trabalho e cuidados com a casa e a família, o levantamento mostra não apenas as discrepâncias entre os gêneros, como também as desigualdades entre mulheres.
Moradora do Paranoá, Thaynara Gomes Bispo dos Santos, 25 anos, conhece bem essa realidade. Mãe do Eric Felipe, 7, Evelyn Caroliny, 4, e Enzo, de 4 meses, ela sustenta os filhos como diarista. Com a pandemia, foi dispensada e, agora, vive com menos de R$ 850, entre o auxílio do governo e a pensão de R$ 200 da filha do meio. “Quando aparece serviço de doméstica e falo que tenho três filhos, a pessoa nem me liga de volta. Se a gente é mãe, o que nos faz mais fortes é querer dar tudo de melhor para eles. Devia haver mais oportunidade”, afirma.
Quando consegue uma diária, Thaynara precisa pagar alguém para ficar com os filhos. Dos R$ 150 que recebe, sobram apenas R$ 50. A diferença é para a babá das crianças e a alimentação delas. “Se tivesse creche em tempo integral, também ajudaria. Com a chegada do Enzo, precisei parar o ensino médio, pois não consegui ninguém para ficar com ele e não posso levar para a escola”, lamenta.
O acesso à educação das mulheres mais pobres é menor em relação àquelas do grupo de alta renda. Para se ter uma ideia, entre as jovens de 18 a 24 anos do grupo de alta renda, 91% estão matriculadas no nível superior, enquanto no grupo de baixa renda são apenas 59,6%.
E, independentemente da classe social, as mulheres do DF são as principais responsáveis pelo trabalho doméstico e cuidado com a família. Não bastasse isso, nas regiões administrativas de baixa renda como Fercal, Itapoã, Paranoá, Recanto das Emas, SCIA-Estrutural e Varjão, 51,1% delas são as responsáveis pelo domicílio.
Emprego e creche
A realidade de Thaynara reflete exatamente o que está na recomendação do estudo da Codeplan. A conclusão é de que o Estado precisa ampliar as políticas de promoção ao acesso e permanência no mercado de trabalho. Sobretudo para aquelas que vivem em regiões de baixa renda e são mães de famílias monoparentais. Nestes casos, uma ação central é aumentar a cobertura de creches para as crianças de até 3 anos.
No DF, há cerca de 20 mil crianças de até 3 anos na fila de espera por uma vaga em creche. De acordo com a Secretaria de Educação, todas as crianças a partir dos 4 anos são atendidas pela rede pública de ensino.
Para equacionar a balança entre a oferta e a procura, o Governo do Distrito Federal inaugurou quatro Centros de Educação da Primeira Infância — Lago Norte, Ceilândia e dois em Samambaia —, abrindo quase 700 novas vagas. Outras 15 unidades devem ser licitadas e construídas em diferentes cidades do DF. A creche da Vila Telebrasília já está em fase de licitação.
Outra medida, segundo a Secretaria de Educação, é colocar em prática o Cartão Creche, com o qual os beneficiários receberão crédito no cartão para matricular os filhos em creches credenciadas ao programa.
Gerente de pesquisa da diretoria de estudos e políticas sociais da Codeplan, Julia Pereira ressalta projetos do governo de promoção da igualdade de gênero no mercado de trabalho em parceria com a Secretaria da Mulher. “Evidências internacionais apontam para a capacitação das mulheres para o empreendedorismo. Mas não adianta ser longe das residências, não pode ter horários rígidos, pois elas não têm com quem deixar os filhos. Se a capacitação agrega renda e oferta outros valores, como a questão de gênero e violência doméstica, ela é mais efetiva”, detalha.
Ainda segundo Juliana, os cursos devem abordar a cadeia completa. Se for corte e costura, deve ensinar como ter acesso ao insumo de forma mais rentável, como administrar o negócio e onde vender. Ou seja, é preciso abordar a cadeia produtiva do começo ao fim.
Empreendedorismo
Aos 49 anos, Maria Aragão tem construído uma história de superação. Natural de Parnaíba, interior do Piauí, até os 34 ela não tinha profissão e sua única ocupação eram os cuidados com o pai doente. Quando ele morreu, há cerca de 15 anos, Maria mudou-se para o DF, aconselhada pela irmã, que já vivia aqui. O primeiro emprego, como recepcionista, mal dava para pagar o aluguel da kit, dividida com três amigas.
A virada na vida começou quando uma amiga, dona de salão, a ensinou o ofício de fazer sobrancelhas e disse: “Investe nisso que você vai ter sucesso”. Assim Maria fez. Economizava o que podia para se capacitar em cursos e aprender novas técnicas.
Hoje, é microempreendedora individual, atende em um espaço no Setor Hospitalar Norte, e sonha em poder transformar a vida de outras mulheres. “Estou fazendo as oficinas do projeto Mulheres Hipercriativas. Se eu for selecionada, quero dar cursos para pessoas como eu era, sem profissão, sem renda, sem rumo. Se a pessoa faz a sobrancelha de uma amiga, é R$ 40. Se aprende a fazer micropigmentação, a renda sobe para R$ 450 ou mais”, exemplifica Maria, que agora é especialista em embelezamento do olhar.
Dignidade e cidadania
Doutora em sociologia, Ana Paula Martins ressalta que o acesso à Justiça envolve os serviços públicos e todos os recursos capazes de garantir a dignidade e a cidadania. No caso da violência contra a mulher, o momento é de celebrar as conquistas e recrudescer a luta para evitar retrocessos e alcançar a ampliação de políticas e orçamentos públicos destinados ao enfrentamento do problema.
Para ela, garantir às mulheres direitos básicos transformará uma realidade social, evitando que muitas delas entrem em situação de vulnerabilidade e tirando outras tantas desse estado. “Todos nós somos sujeitos vulneráveis à violência, pois vivemos em um dos países mais violentos do mundo. Mas o fato de uma pessoa ser mulher já a expõe mais à violência doméstica. Se ela é negra, tem muito mais exposição e risco de sofrer violência”, detalha Ana Paula.
Sair deste ciclo exige uma rede robusta e integrada, com atuação sob a perspectiva intersetorial. “Serviços de segurança pública, de assistência social, de acesso à renda e ao trabalho decente, de saúde, de oportunidades de rompimento com o ciclo da violência, tudo isso precisa ser articulado e ter orçamento público para sua plena execução”, afirma Ana Paula, que também é professora colaboradora do programa de pós-graduação em Direitos Humanos e Cidadania da Universidade de Brasília (UnB).
Outro caminho para reduzir as desigualdades entre homens e mulheres e entre as próprias mulheres é traçar políticas diferentes para alcançar um número maior de pessoas. “É preciso entender que há uma hierarquia de corpos e nem vou começar pelos homens subjugando as mulheres. Vamos falar da hierarquia de corpos entre mulheres: a branca, negra, a periférica, a trans. Esses grupos vão precisar de atenção mais cuidadosa”, defende Mariana Távora, coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).
Feminicídio antinegro é o termo que revela a face mais perversa da violência contra as mulheres quando essa encontra o racismo: a morte. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2019 houve um aumento de 7,1% dos casos de feminicídio no país, chegando a 1.326 mulheres mortas. Desse total, 66,6% eram negras, indicador que vem se mantendo há anos. Considerada uma das legislações mais avançadas de enfrentamento da violência de gênero no mundo, a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) não tem alcançado as mulheres negras. A Lei de Feminicídio (Lei nº 13.104/2015), como um instrumento jurídico importante, também não tem sido suficiente para coibir seus assassinatos.
Ao contrário, tanto a violência doméstica quanto as mortes por homicídio de mulheres negras têm aumentado de maneira preocupante, significa que o racismo tem incidido na forma como estas violências atingem as mulheres brasileiras. A interseccionalidade, como ferramenta de análise elaborada por mulheres negras, tem sido fundamental para a compreensão das desigualdades estruturais que atingem a população negra e, principalmente, para analisar a forma como diferentes marcadores sociais são determinantes na conformação da violência contra as mulheres. As ideias aplicadas às mulheres negras, construídas ao longo de séculos de colonização e escravização, criaram imagens negativas sobre seus corpos e são reiteradas na contemporaneidade.
Essas “imagens de controle”, nos termos da socióloga Patricia Hill Collins, autorizam inúmeras violações de direitos humanos, demonstrando a necessidade de análises que transcendam a perspectiva de gênero, a fim de abranger a complexidade das desigualdades. Além disso, o racismo institucional tem sido identificado como entrave no acesso a direitos, incluindo serviços previstos na Lei Maria da Penha, como a formalização de denúncia de agressão e a concessão de medida protetiva. Mulheres negras, marcadas como corpos violáveis, estão à mercê da omissão do Estado. É urgente a mudança desse quadro.
* Doutoranda em Política Social e mestra em História pela Universidade de Brasília (UnB). É coordenadora do Observatório da Saúde da População Negra (PopNegra), vinculado ao Núcleo de Estudos de Saúde Pública (Nesp/Ceam-UnB) e pesquisadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (Neab/Ceam-UnB)

Entrevista | Ericka Filippelli
Secretária da Mulher do DF
A legislação de proteção e prevenção à violência doméstica tem sido um importante instrumento de defesa dos direitos das mulheres. No entanto, a elas ainda são negados direitos fundamentais. O que tem sido feito no DF para corrigir essa situação?
A garantia de direitos fundamentais passa pela necessidade de se ter uma política pública para implementá-los. Estamos trabalhando na construção do Plano Distrital de Política para as Mulheres, com ações no enfrentamento da violência, oferta de saúde, acesso à educação. Trabalhando com a Secretaria de Economia e de Planejamento para identificar essa política no Plano Plurianual. Realizamos a primeira eleição para o conselho dos direitos da mulher. Com isso, trazemos a sociedade civil para perto, os órgãos de controle, e isso torna a política mais eficiente. Criamos a Subsecretaria de Promoção de Políticas para as Mulheres para tratar das questões de saúde, educação, autonomia econômica das mulheres da área urbana, rural e as trans; e para garantir que a mulher tenha acesso ao mercado de trabalho e à saúde integral.
Quais políticas voltadas para a mulher já existem no DF?
Nossos projetos buscam proporcionar a autonomia econômica da mulher. Temos o Empreende Mais Mulher, cujo objetivo é capacitar mulheres em situação de violência. Temos o programa em parceria com a rede mulher empreendedora, em que capacitamos as mulheres por meio de cursos on-line. E o Mulheres Hipercriativas, em parceria com a OEI (Organização dos Estados Ibero-Americanos). Vamos selecionar 40 mulheres e capacitá-las em cursos presenciais e on-line. Elas vão receber entre R$ 2,5 e R$ 10 mil durante esse processo e serão multiplicadoras. Nossa meta é treinar 4 mil mulheres em um ano. Em breve, o governo vai inaugurar a Clínica da Mulher e vamos torná-la um ponto de prevenção à gravidez na adolescência e para o planejamento da vida sexual reprodutiva. Muitas das mulheres com filhos, fora do mercado de trabalho, não tiveram a oportunidade de escolher quando ser ou não mãe.
Foto: Carlos Vieira/CB/D.A. Press
Quando falamos da situação atual dos direitos das mulheres, é sempre importante destacar os feitos de uma ampla mobilização global. Em menos de 15 anos, passamos a reconhecer a violência contra as mulheres como um dos mais importantes problemas sociais da atualidade. Hoje, já não há um dia sequer de silêncio sobre esse tema, contrariamente a uma história inteira de tabus sobre o que acontece dentro de casa, na intimidade que muitas vezes esconde uma vida inteira de abusos e violações. Das páginas policiais, o assunto transitou para as capas de revistas sobre cultura e comportamento, para as chamadas dos principais programas e canais de comunicação, para as imensas manifestações de rua promovidas por jovens mulheres nos últimos anos. Uma chave de consciência e empoderamento foi virada. Uma chave de resistência e inconformidade com as violações.
De lá pra cá, mudamos o desenho institucional desse país. O marco dessa história é a promulgação da Lei Maria da Penha, em 2006, embora também devêssemos estabelecer o ano de 2003 como um ano crucial, pois foi quando criamos, pela primeira vez, uma secretaria governamental no âmbito do governo federal e, com isso, mudamos o status das políticas públicas para mulheres.
Um conjunto de equipamentos públicos especializados, instalados em todas os estados brasileiros, mudou não apenas as práticas mas também a linguagem das políticas. Dar nome às coisas faz parte dessa estratégia e, por isso, colocar o nome “mulheres” em cada um desses equipamentos, mostra que o Estado brasileiro deve se responsabilizar para enfrentar a violência. Estamos falando das casas-abrigo, dos centros de atendimento às mulheres em situação de violência, das varas e juizados especializados, dos núcleos da mulher no Ministério Público e na Defensoria Pública, do atendimento especializado nos serviços de saúde. Também é importante destacar a mobilização nacional no campo da educação, uma vez que estudos e pesquisas sobre relações de gênero são responsáveis pela formação de profissionais sensíveis e aptos para compreender e lidar com o fenômeno da violência e das desigualdades persistentes que atingem as meninas e as mulheres.
Foi nesta onda de expansão dos direitos das mulheres que entendemos a necessidade de dizer as coisas de um modo que não tornasse invisíveis os problemas das mulheres. Esse, aliás, é um dos maiores aprendizados que tivemos com nossas precursoras feministas: “o pessoal é político”. Nomear a violência de gênero, portanto, e produzir palavras e expressões como “feminicídio”, “importunação sexual” e “cultura do estupro” é um modo de explicitar o problema e fazer com que o Estado e a sociedade reconheçam suas responsabilidades.
Entendemos, de uma vez por todas, que o problema tanto não é de hoje como não é “delas”. O problema não é das mulheres que não sabem se impor, das mulheres que dependem, das mulheres que amam demais. Os inúmeros relatos que ouvimos e analisamos dão conta de que a violência de gênero é como um vírus altamente contagioso, daqueles que se alastra, que está onde a gente não vê e que pode atingir um número imprevisível de mulheres e meninas. Essa metáfora inclusive nos ajuda a explicar porque muitas estudiosas do tema começaram a falar em uma “pandemia dentro da pandemia”, ao refletirem sobre os impactos da covid-19 sobre a vida das mulheres.
Quando a pandemia foi identificada e o vírus chegou ao Brasil, encontrou diversas vulnerabilidades. Encontrou não apenas milhões de corpos sem imunidade para a nova doença, mas todas as vulnerabilidades pré-existentes, como o sexismo, o trabalho informal, o racismo estrutural, o capacitismo, a lgbtfobia, entre outras discriminações. Os recentes cortes nos orçamentos do setor e as limitações impostas pela pandemia, agregaram-se como causas explicativas da fragilização da resposta estatal. Levaram a um aumento significativo de feminicídios e agressões, gerando cifras invisíveis. As denúncias estão muito mais difíceis tanto pela limitação da mobilidade como pelas restrições na oferta dos serviços públicos.
É um quadro preocupante, sem dúvida, que alerta para a importância da manutenção dos pactos pelos direitos humanos das mulheres. Se acontece uma agressão física a cada dois minutos e um estupro a cada 8 segundos (dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública), isso é problema nosso. É problema e responsabilidade de cada agente estatal, dos parlamentares, dos professores/as e da sociedade civil. É nossa responsabilidade ampliar as mobilizações, partindo de uma história de conquistas no campo dos direitos para compromissos concretos com a expansão das políticas públicas. O período eleitoral é, aliás, uma excelente oportunidade para discutir amplamente a necessidade de um orçamento sensível a gênero em todos os órgãos do Estado que garanta, em todo o país, o funcionamento efetivo dos serviços especializados, a qualificação de servidores/as e a promoção das sensibilidades.
* Professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania (PPGDH/UnB). Pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre as Mulheres (NEPeM/UnB)
Confira a rede de proteção, prevenção, repressão, políticas públicas e canais de denúncia de violência contra a mulher no DF
Empreende mais mulher
Espaço com psicólogos e assistentes sociais capacitados para mapear as necessidades de trabalho e as habilidades profissionais da mulher. O atendimento é individualizado e prevê a elaboração de um plano personalizado, feito pela equipe da Secretaria da Mulher. Também é feito o encaminhamento aos cursos oferecidos pela pasta ou aos serviços prestados pelos parceiros, incluindo Agência do Trabalhador, BRB, Simplifica PJ e o Prospera. Agendamento: (61) 99206-6788 ou empreende@mulher.df.gov.br.
Mulheres Hipercriativas
É um projeto da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) e da Secretaria de Estado da Mulher do DF que tem como objetivo formar uma rede de aprendizagem, com a colaboração e parceria de mulheres. As inscrições vão até sexta-feira, pelo site: oei.org.br/mulheres-hipercriativas.
Indicadores
A Secretaria de Segurança Pública instalou a Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios. Tem como objetivo elaborar diagnósticos criminal e criminológico dos crimes. A partir dele, o governo adequa as políticas públicas para cada região administrativa.
Capacitação
Treinamento de 1.815 profissionais da segurança pública com foco no atendimento às mulheres vítimas de violência, enfrentamento ao feminicídio e à violência doméstica e familiar. Deste total, 724 eram policiais militares recém-ingressados na Polícia Militar (PMDF).
Campanha #MetaaColher
Com o slogan “A melhor arma contra o feminicídio é a colher”, o movimento busca incentivar a denúncia como ferramenta de prevenção. Assista ao vídeo da campanha: bit.ly/2HpLsZX.
Provid
Policiamento especializado para atendimento às mulheres por meio do Programa de Prevenção Orientada à Violência Doméstica (Provid). O trabalho ajuda a prevenir, inibir e interromper o ciclo da violência doméstica. As vítimas podem entrar em contato por meio do 190.
Aplicativo Viva Flor
Destinado às mulheres com medida protetiva de urgência, encaminhadas pelo Judiciário. Ao acionar o aplicativo, ele emite um chamado de forma prioritária na tela do computador do despachante do Centro de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal (Copom). Uma equipe da PM é enviada imediatamente para o local. No DF, 96 mulheres já usaram o sistema e, 80 permanecem com o aplicativo ativo.
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas)
É uma unidade pública de assistência social que atende as pessoas e famílias (crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, mulheres) que estão vivendo situações de violência ou violação de direitos. No DF, são 10 unidades, além do Creas da Diversidade. Endereços e telefones no link: bit.ly/3kuno6Q.
Subsecretaria de Proteção às Vítimas de Violência (Pró-vítima)
Telefone: 2104-4289
Disque 100
É um serviço de proteção de crianças e adolescentes com foco em violência sexual e violação de direitos de toda a população, especialmente os grupos sociais vulneráveis.
Central de Atendimento à Mulher
Telefones: 180 (nacional) e 156, Opção 6 (Distrito Federal)
Centros Especializados de Atendimento à Mulher (Ceam)
Ofertam acolhimento e acompanhamento interdisciplinar (social, psicológico, pedagógico e de orientação jurídica) às mulheres em situações de violência de gênero. Informações e telefones: bit.ly/35rrpCJ.
Fonte: